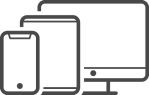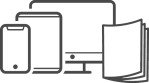Três décadas atrás, demitir era algo quase inexistente nas empresas do Brasil. Eram raríssimos os casos de demissão por desempenho ou por incompatibilidade de perfil. Da mesma forma, as mudanças nas atividades de um cargo eram quase nulas. E, quando alguém ficava “obsoleto”, criava-se uma função de assessoria que justificasse a permanência do funcionário de muito tempo na empresa.
Quando fomos expostos à globalização, nossa gestão estava despreparada para todas as mudanças que se impuseram à função dos gestores. Além disso, os profissionais passaram a ser cobrados por tomadas de decisão mais rápidas, mais autonomia e atuações inéditas na gestão de pessoas, como selecionar por competências, melhorar avaliações, pensar em novas formas de retenção.
Também como consequência daquele momento, o tema demissão passou a estar na vida de todos — os que decidiam sobre quem seria demitido e os que sairiam da empresa. Assim, tivemos de aprender a demitir. Foi difícil, doloroso, e houve muita incompetência. Como tudo que se faz pela primeira vez, cometem-se inadequações, erros e, pior, desrespeito com o semelhante.
Surgiram ainda os aproveitadores, que tentaram — e continuam tentando — conquistar vantagens nesse momento doloroso. Desde tirar dinheiro de quem foi demitido, prometendo o sonho de um emprego, até construir planos de demissão que só consideram os custos, e não as pessoas. Esses pagaram caro, pois criaram problemas com todos os públicos dessas empresas: os funcionários passaram a desacreditar de seus contratadores, os sindicatos ficaram mais aguerridos contra essas companhias e pessoas convidadas a participar de processos de seleção rejeitaram o convite.
Os maiores erros
Grande confusão ainda se faz entre metodologias e instrumentos utilizados para realizar demissões que, no fundo, têm o intuito de proteger os que seriam os culpados pelas consequências de processos malconduzidos. Não há erro pior do que tomar decisões de encerramento de atividades, reduções de quadro e mudanças de processos que afetam pessoas com base apenas em fatos passados.
Precisei apoiar diretamente processos de desligamento durante 18 anos, e posso afirmar que todos foram diferentes e exigiram ações específicas. O cenário, as necessidades, os vínculos com a organização, o mercado de trabalho: tudo se transforma. E, por ser este um momento tão delicado, é preciso considerar essa atividade uma especialidade que deve ser conduzida só por quem tem realmente um legítimo interesse no ser humano.
Não é de espantar que instrumentos como os planos de demissão voluntária (PDVs) já não tenham adesão atualmente como no passado. Qual seria hoje o atrativo para alguém deixar uma organização? Será que a pessoa se move só pelo pacote em dinheiro (e, diga-se de passagem, cada vez menor), ou será que está em busca de um ambiente de trabalho que comporte as novas demandas do mercado?
Há quem possa dizer que eu estou sendo poética. Afinal, o que tem a empresa de responsabilidade sobre o futuro ex-colaborador? No meu ponto de vista, tudo. É isso que eu chamo de responsabilidade social praticada na íntegra. Sem essa consciência, continuaremos um país hipócrita, em que as companhias fazem um discurso de responsabilidade social para fora, mas não praticam para a comunidade interna esses mesmos valores no momento mais crítico da vida de seus funcionários.
* Psicóloga, sócia da Vicky Bloch Associados e professora nos cursos de especialização em RH da FGV-SP e da FIA




 Salários e carreiras: saiba o que esperar do mercado de RH em 2025
Salários e carreiras: saiba o que esperar do mercado de RH em 2025 Raio-X da liderança indica pontos de atenção para empresas brasileiras
Raio-X da liderança indica pontos de atenção para empresas brasileiras Os 12 sinais de alerta do burnout
Os 12 sinais de alerta do burnout Governo oferece mais de 700 cursos online e gratuitos
Governo oferece mais de 700 cursos online e gratuitos Atestados médicos: o que muda a partir de novembro
Atestados médicos: o que muda a partir de novembro